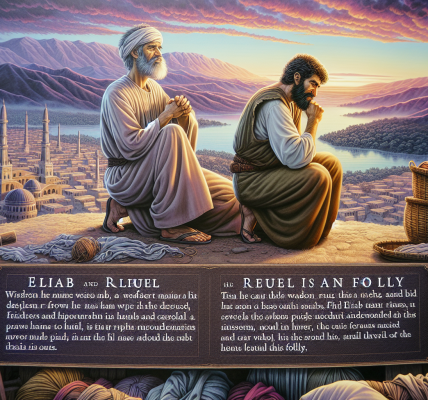A tarde caía sobre as pequenas lavouras a leste do Jordão, trazendo consigo uma brisa que mal conseguia mover a poeira acumulada no caminho. O sol, um disco alaranjado e pesado, punha-se atrás das colinas de Gileade, alongando as sombras dos homens que regressavam dos campos. Entre eles, caminhava Elimeleque, um israelita da tribo de Manassés, com os ombros curvados não apenas pelo cansaço, mas pelo peso do que testemunhara na praça, antes do meio-dia.
Sua túnica, áspera e impregnada do suor do dia, colava-se-lhe às costas. Os pensamentos, porém, estavam longe do conforto do seu pátio. Voltavam, insistentes, à cena no portão da cidade. Dois homens, Hebrom e Jafé, travavam uma disputa acirrada. A discussão começara por uns sacos de cevada, mas logo descambara para insultos que feriam mais que espada. A lei era clara, ele sabia. Ouvira os anciãos a recitarem, em vozes graves, as palavras que Moisés entregara ao povo. *Se homens brigarem um com o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido das mãos daquele que o fere, e ela estender a mão e o agarrar pelas partes vergonhosas, cortar-lhe-ás a mão; não a olharás com piedade.*
Hebrom, em fúria cega, golpeara o rosto de Jafé. A mulher de Jafé, uma moça de olhos grandes e mãos rápidas, interpôs-se num instante, tentando afastar o agressor. No tumulto, seus dedos se fecharam sobre a coxa de Hebrom, num gesto desesperado e não calculado. O grito que se seguiu não foi de dor física, mas de ultraje profundo. A briga cessou de súbito, substituída por um silêncio carregado de horror. Todos os olhos se voltaram para a mulher, depois para os anciãos que observavam, sentados à sombra do muro de pedra.
Elimeleque fechou os olhos por um instante, ainda caminhando. Revia o rosto pálido da mulher, os olhos de Hebrom injetados de fúria e vergonha. A lei não era um simples regulamento; era uma cerca posta em torno da dignidade do homem, da ordem da comunidade, da própria santidade da vida. O juiz, um homem velho de barbas brancas como a neve do Hermom, levantara-se com dificuldade. Sua voz, porém, ecoara firme: “A ação, ainda que movida por paixão conjugal, viola o fundamento. A punição é prescrita. Que se cumpra”.
Não houve espetáculo. Foi rápido, sóbrio, terrível. Um cortador de pedras, homem de braços fortes e expressão impassível, cumpriu o mandado. O choro abafado da mulher misturou-se ao ruído seco da lâmina sobre a bigorna de madeira. Ninguém festejou. Ninguém sequer falou. Era uma justiça que queimava como fogo, que purgava a impureza para preservar o todo. Elimeleque sentira o estômago embrulhar, não pela crueldade, mas pela solene e aterradora realidade daquela justiça. Não era vingança. Era um princípio divino, cortante e claro como o gume de uma foice nova.
Ao chegar à sua casa, uma construção de pedra baixa com telhado de junco, foi recebido por Ana, sua esposa. Ela percebeu-lhe a perturbação no olhar. Enquanto ele lavava os pés na bacia de barro, ela trouxe pão ainda morno e azeitonas escuras.
“O que houve, meu homem? O sol te queimou o juízo?”, perguntou, com brandura.
Elimeleque contou, em palavras entrecortadas, o ocorrido. Ana ouviu, as mãos imóveis sobre o pano com que enrolava o pão.
“É uma lei dura”, murmurou, por fim.
“É uma lei santa”, corrigiu ele, mas sem convicção plena. “É como os pesos e medidas no meu saco. Se uso um *efa* menor para vender e um maior para comprar, não estou apenas enganando. Estou corroendo a confiança, apodrecendo o tecido do pacto. A mesma mão que falsifica a medida pode, um dia, ser a mão que profana o irmão. Tudo está ligado.”
Nos dias que se seguiram, outro caso agitou a comunidade, tocando numa ferida ainda mais sensível. Um homem da tribo, chamado Selá, morrera sem deixar herdeiros. A viúva, Noemi, uma mulher de semblante sereno mas olhos profundamente tristes, dirigiu-se à casa do cunhado, Malom. A lei era, outra vez, precisa: *Se irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filho, a mulher do falecido não se casará com homem estranho; o cunhado a tomará por esposa.* Era o resgate do nome, da herança, da continuidade.
Malom, porém, era um homem de coração estreito. Via naquela mulher apenas mais uma boca para alimentar, um elo com uma propriedade que ele já considerava sua. Recusou-se. Publicamente, no portão, diante dos anciãos. A humilhação de Noemi foi silenciosa. Ela não gritou. Apenas baixou os olhos, enquanto as faces lhe ardiam. Então, fez o que a lei determinava. Aproximou-se dele, na presença dos juízes, e descalçou-lhe a sandália. O couro, gasto e poeirento, saiu do pé com um som surdo. Depois, cuspiu no chão, diante do seu rosto. “Assim se faz ao homem que não edifica a casa de seu irmão”, disse, com uma voz tão clara que cortou o ar como uma lâmina.
Elimeleque estava lá. Viu o rosto de Malom contrair-se de vergonha e ódio. Ouviu os murmúrios da multidão. “A casa daquele que tem a sandália descalçada será chamada, em Israel, ‘a casa do descalçado’.” Não era uma penalidade física, mas uma marca social indelével, uma infâmia que se pregaria ao seu nome e ao de seus descendentes. Era uma justiça diferente da primeira, mas com a mesma raiz: a preservação dos laços familiares, a defesa dos vulneráveis, a memória do pacto.
Naquela noite, sentado à porta de casa, Elimeleque observava as estrelas que começavam a cintilar no manto escuro do céu. Ana veio sentar-se ao seu lado, em silêncio. Ele pensava nas duas cenas, tão distintas e tão conectadas. A mão cortada e a sandália descalçada. Uma justiça que protegia a integridade física e moral do indivíduo, outra que protegia a estrutura familiar e social. Ambas revelavam um Deus que se importava com os detalhes mais ínfimos da vida em comunidade. Um Deus que via a briga no campo, o desespero da mulher, a ganância no coração do cunhado, a solidão da viúva.
“É estranho”, disse ele, baixinho, como se falando consigo mesmo. “Vivemos sob leis que parecem pedras pesadas. Mas olhando bem, elas são como os contornos de um caminho. Rígidos, sim, para que não nos desviemos para o abismo. Mas são o que nos impede de virar animais, de engolir uns aos outros.”
Ana colocou a mão sobre a dele, áspera e calejada. “E o que acontece com quem esquece o caminho?”, perguntou.
Elimeleque lembrou-se então das últimas palavras daquela porção da lei, que o sacerdote recitara no sábado passado. *Lembra-te do que te fez Amaleque… não te esqueças.* Um mandamento de memória. Porque esquecer a injustiça sofrida, o mal que intentou destruir os fracos e os cansados no deserto, era o primeiro passo para se tornar como ele. A justiça minuciosa do dia-a-dia – os pesos honestos, o respeito ao próximo, a responsabilidade para com a família – era o antídoto contra o esquecimento. Era a maneira de honrar a memória da libertação.
O vento noturno trouxe o cheiro do orvalho sobre os campos. Ele respirou fundo. As leis não eram um fardo, percebeu subitamente. Eram a própria textura da liberdade. Uma liberdade com forma, com limites, com responsabilidade. Uma liberdade que impedia um homem de ser diminuído na sua honra, uma viúva de ser desamparada na sua dor, um povo de esquecer quem era e Aquele que o resgatara.
Sem dizer mais nada, entrou em casa. O dia seguinte traria seu próprio trabalho, suas próprias tentações. Haveria a tentação de usar um peso ligeiramente mais pesado na venda da lã. Haveria o cansaço que poderia torná-lo áspero com o próximo. Mas agora ele via, com uma clareza que lhe aquecia o peito, que cada ato, por menor que fosse, era um fio no grande tecido da aliança. E ele, Elimeleque, homem comum de pés empoeirados, era um tecelão daquela história santa. O cortador de pedras, a sandália no chão, o *efa* justo e a memória de Amaleque – tudo era parte da mesma canção. Uma canção de justiça, detalhada, implacável e profundamente misericordiosa, que o vento da planície parecia agora sussurrar entre as folhas dos carvalhos.