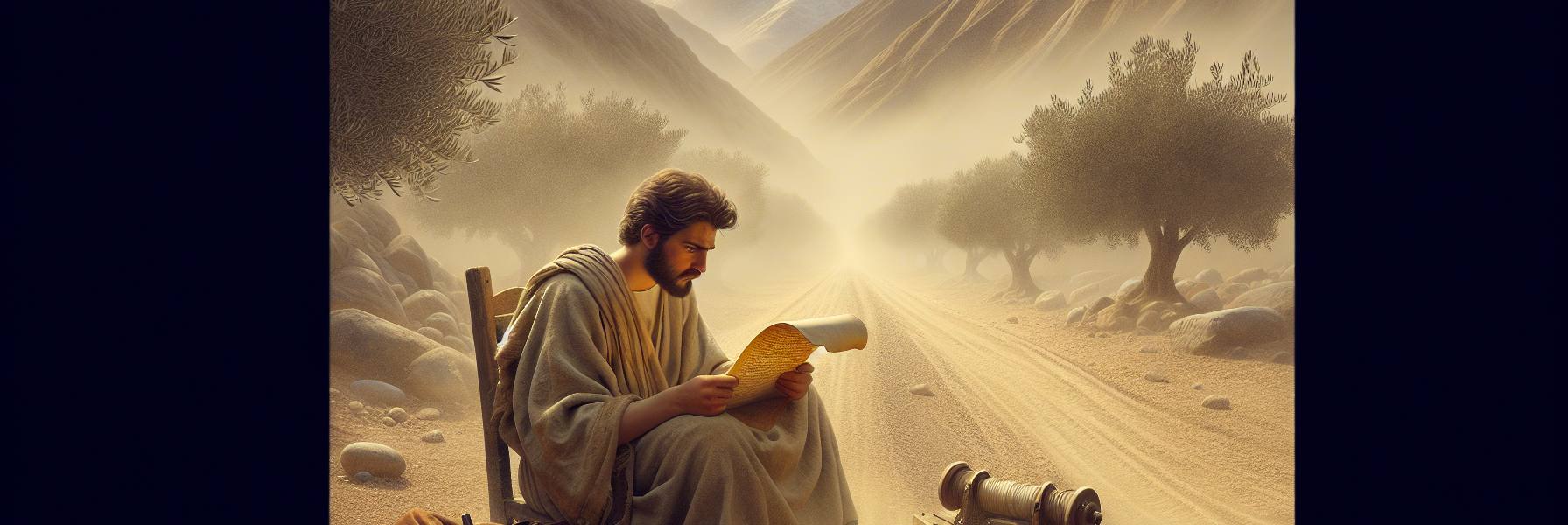A poeira da estrada da Síria grudava na pele de Levi como uma segunda película, misturando-se ao suor salgado que escorria de suas têmporas. Ele não era mais um menino, mas tampouco se sentia um homem completo, ali, naquele limbo entre a herança de seu povo e o mundo vasto e assustadoramente livre que se descortinava além das sinagogas. Seu nome, Levi, carregava o peso de uma tribo, de leis entalhadas em pedra, mas seu coração parecia um pergaminho novo, ainda em branco, ansioso por uma escrita diferente.
Sua jornada tinha começado em Tarso, onde as discussões nos círculos helenistas ecoavam palavras estranhas: “graça”, “liberdade”, “herdeiro”. Palavras que soavam como música, mas que sua formação farisaica tratava como melodia perigosa. Ele carregava consigo, dobrado com cuidado dentro do manto, um trecho de uma carta. Não era a carta inteira, apenas uma seção copiada à luz vacilante de uma lamparina, passada de mão em mão com a reverência devida a um texto sagrado. Eram as palavras de um certo Paulo, um fariseu como ele, mas que agora proclamava coisas que faziam os anciãos cerrar os dentes.
Enquanto caminhava, Levi ruminava os preceitos que eram seu jugo e sua identidade. A Lei era como o sol do deserto: clara, implacável, definindo sombra e luz. Ela dizia “sim” e “não”, “puro” e “impuro”, “santo” e “profano”. Sob ela, ele sabia quem era. Era um escravo, sim, mas um escravo de um Rei majestoso. Havia uma segurança nessa servidão. Mas aquelas palavras na carta… elas cutucavam um desejo adormecido, antigo, quase infantil.
Ele parou à beira de um pequeno riacho, sacou o pergaminho e, com os dedos ainda empoeirados, segurou-o contra a luz do fim da tarde. Os caracteres gregos dançavam diante de seus olhos. “*Mas, quando chegou a plenitude dos tempos…*” Leu em voz baixa, rouca. A linguagem não era a de um tratado. Era a de um parto, a de um drama familiar.
Paulo escrevia sobre herdeiros. Uma imagem vívida surgiu na mente de Levi, nítida como uma memória própria: um grande casarão, um *pater familias* romano severo. O herdeiro, ainda menino, era tratado como um escravo. Tinha roupas finas, talvez, mas não tinha voz. Sua vida era governada por pedagogos, por regras, por horários. Ele era dono de tudo, mas não possuía nada. Levi sentiu um nó na garganta. Era exatamente isso. A Lei era seu pedagogo. Ela o protegera, guiara, mas também o mantivera trancado em um pátio de infância espiritual. Ele conhecia Deus pelas regras do pedagogo, nunca pelo abraço do Pai.
O texto continuava, e Levi sentiu o ar faltar. Paulo fazia uma distinção brutal, terrível, entre dois filhos. Ismael, nascido da escrava, conforme a carne. Isaque, nascido da livre, mediante a promessa. E então a sentença, dura como golpe de martelo: “*Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre.*”
Levi olhou para suas próprias mãos, mãos que haviam tocado os rolos da Torah com veneração. Eram mãos de um filho da escrava? Toda a sua religiosidade, meticulosa, cheia de esforço próprio e de temor, era ela fruto da escravidão? Um frio percorreu sua espinha, não de medo, mas de um reconhecimento profundo e doloroso. Ele tentava agradar a um Deus distante cumprindo ordens, não confiava no amor de um Pai próximo.
O sol começou a se pôr, tingindo as nuvens de púrpura e ouro. E foi nessa luz cambiante que ele leu as palavras que pareciam rasgar o véu do próprio templo de seu coração: “*E, porque vós sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Aba, Pai.*”
*Aba*. A palavra aramaica, doce e cotidiana, de uma criança chamando pelo pai. Não era “Ó Altíssimo” ou “Senhor dos Exércitos”. Era “Aba”. Algo se rompeu dentro de Levi. Não foi um estrondo, mas um suspiro longo, como o de uma porta pesada que finalmente cede após anos fechada. As regras não haviam produzido aquele grito. A circuncisão não o ensinara. Era algo colocado dentro, um Espírito que usava sua própria voz para falar uma intimidade que ele jamais ousara sonhar.
Ele deixou o pergaminho descansar no colo. Os sons da noite chegavam: o coaxar distante de sapos, o farfalhar de algum pequeno animal na vegetação à beira do riacho. Tudo parecia diferente. A lei não fora abolida, ele percebeu num lampejo. Ela fora cumprida, transcendida. Como um pedagogo que, tendo levado o menino até a maioridade, faz uma reverência e se retira da sala, entregando-o aos braços do pai. O pai que sempre estivera ali, esperando.
Levi ergueu os olhos para o céu que agora escurecia, salpicado pelas primeiras estrelas. Já não eram apenas luminares criados no quarto dia, regulados por decretos cósmicos. Eram, de alguma forma, testemunhas. E de sua boca, sem planejamento, sem ritual, saiu um sussurro áspero, carregado de toda a poeira da estrada, de toda a confusão, de toda a saudade que ele nem sabia que carregava:
“Aba.”
A palavra ecoou baixo, perdendo-se no riacho. Nada mudou externamente. A poeira ainda estava em suas pernas, a fome latejava em seu estômago, a estrada ainda estava à sua frente. Mas tudo mudara. Ele já não era um escravo sob tutores. Era um filho. Um herdeiro. Por graça. Por promessa.
Dobrou o pergaminho com uma nova suavidade, guardou-o próximo ao peito. A noite seria fria, a jornada até a próxima cidade, longa. Mas ele se levantou sentindo um peso imenso ter sido retirado de seus ombros, substituído por uma leveza que também era responsabilidade. A liberdade não era licença para errar; era a coragem de caminhar, finalmente, para casa.
E, enquanto começava a andar novamente, sob o manto agora roxo da noite, Levi percebeu que não carregava mais apenas um texto copiado. Carregava uma chama acesa em seu interior, um grito silencioso e contínuo que remodelava o mundo ao seu redor. Era o grito do Espírito. Era seu próprio grito. Era, simplesmente, “Pai”. E era suficiente.