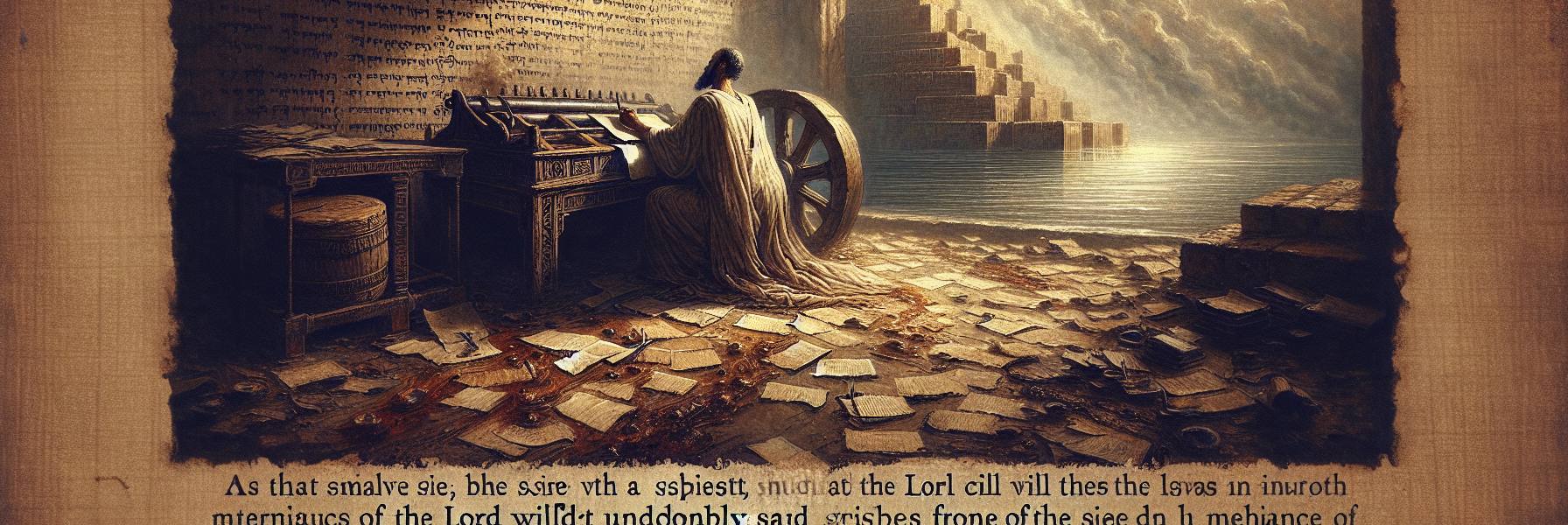O dia amanheceu quente sobre Nínive, um calor que não aquecia, mas oprimia. O ar soprava do deserto carregado de um pó fino que se depositava sobre as folhas largas das palmeiras nos jardens suspensos e sobre os dentes de dragão das ameias que coroavam muralhas famosas. Na cidade, o comércio já fervilhava nas ruas retas e largas, planejadas para a passagem de carros de guerra. O cheiro do Tigre, lodoso e fértil, misturava-se com o odor de especiarias, suor animal e o incenso queimado diante das incontáveis estátuas de Ishtar e Assur.
Eliabe, um mercador hebreu idoso que residia no bairro dos estrangeiros, subiu ao terraço plano de sua casa de tijolos crus. Seus olhos, marcados por anos de estrada e de saudade, percorreram a paisagem de poder brutal. Ele via os palácios revestidos de lápis-lazúli e alabastro, os enormes touros alados de pedra com rostos de reis, cujos olhos pareciam seguir cada movimento nas ruas. Via o ir e vir incessante de soldados com escudos de bronze que reluziam como um fogo pálido sob o sol. Nínive era uma taça transbordante de riqueza, uma leoa entre as nações, cujas garras haviam rasgado a carne de nações inteiras. A Assíria bebera do vinho da violência até a embriaguez, e Nínive era sua cabeça orgulhosa.
Mas naquela manhã, ao olhar para o norte, para onde o rio fazia uma curva larga, Eliabe sentiu um frio súbito nas entranhas, um calafrio que não vinha do ar. Não era uma visão, mas uma certeza silenciosa e pesada que desceu sobre seu espírito como um manto úmido. As palavras de um profeta obscuro, um homem de Elcos chamado Naum, ecoaram em sua memória com uma clareza atroz. Ele as ouvira de um viajante, sussurradas em hebraico áspero, cheias de fúria divina e imagens de fim.
“Ai da cidade ensanguentada!”, a memória sussurrou. E ele viu, não com os olhos, mas com a alma, a realidade por trás do esplendor. Viu os alicerces não sobre rocha, mas sobre pilhas de cadáveres de deportados — israelitas do Norte com os olhos vazios, babilônios, elamitas, homens de Judá arrastados com ganchos nos lábios. O luxo de Nínive era tingido de carmesim. As vestes púrpuras dos nobres eram púrpura de sangue seco. O canto das harpistas nos salões abobadados tentava abafar, em vão, o lamento distante das mães cujos filhos haviam sido esmagados sob as rodas dos carros assírios, ou empalados nas estacas fora dos muros como advertência.
O comércio que ele via era o saque do mundo organizado em bancas de mercado. “Eia, eia!”, gritavam os mercadores de cavalos da Cilícia, de marfim da África, de metais preciosos das montanhas. Era toda a pilhagem, toda a rapina, vendida e revendida, um ciclo incessante de cobiça. A cidade era um grande mercado de coisas roubadas, e seu charme, pensou Eliabe com amargura, era o charme de uma cortesã perversa, cheia de feitiços e sedução, que vendia nações inteiras por sua luxúria de poder.
De repente, uma cena chamou sua atenção. Junto ao portão principal, uma disputa surgira. Um oficial assírio, de queixo erguido e túnica bordada, esbofeteou um escravo sírio que deixara cair uma carga de tecidos. O golpe foi seco, cruel, e o homem caiu no chão em silêncio, sem um gemido. Ninguém parou. A vida continuou. A violência era a linguagem comum, o cimento dessa sociedade. Eliabe lembrou: “Por causa das muitas prostituições da prostituta elegante, da mestra em feitiçarias, que vendia nações com suas prostituições, e povos, com suas feitiçarias.” A prostituição não era só dos ritos nos templos de Ishtar; era a venda da alma, a aliança com a crueldade, o feitiço do terror que mantinha o império unido.
O sol subiu mais alto, e o calor tornou-se opressivo. Então, no horizonte noroeste, nuvens começaram a se acumular. Não eram nuvens de chuva, mas densas, pesadas, de uma cor de ferrugem e cinza. Eliabe as fitou, e seu coração disparou. A memória profética tornou-se um clamor interno. “Eis que eu estou contra ti”, dizia o SENHOR. As nuvens pareciam transformar-se, em sua mente, na visão de uma nuvem de poeira levantada por incontáveis cascos e rodas. O exército. Não o exército assírio, mas um exército vindo para cercar, para sitiar, para retribuir.
Ele viu, em um flash de compreensão terrível, o que viria. Os valentes, aqueles guerreiros de braços temíveis pintados nas paredes dos palácios, se embebedariam de medo. Esconder-se-iam nos esconderijos, nos jardins suspensos, nas fortalezas, e encontrariam apenas a morte. As portas do país se abririam de par em par, não para a saída triunfal, mas para a entrada do destruidor. Os ferrolhos de bronze, tão orgulhosamente exibidos, seriam consumidos pelo fogo.
A visão interior continuou, implacável. Ele viu as figuras que antes pareciam inexpugnáveis — os príncipes, os administradores, os escribas — como gafanhotos num dia de frio. Incontáveis, sim, mas sem força, caídos ao chão, secos. Ao menor sopro, se dispersariam. O império era um colosso, mas com pés de barro. E o barro já estava a rachar sob o peso de sua própria maldade.
Seu olhar desviou-se para as muralhas. A famosa muralha, tão larga que três carros podiam correr sobre seu topo. Nínive confiava na fortificação, nos seus engenheiros, na sua localização entre os rios. Mas ele viu, com clareza profética, os aterros sendo construídos contra ela. Não por homens, mas por uma força inexorável. O rio, seu aliado, seu defensor… a memória de Naum trouxe a imagem final, vívida e horrível. “As comportas dos rios serão abertas, e o palácio será dissolvido.”
Num instante de puro terror visionário, Eliabe viu as águas do Tigre, inchadas por chuvas torrenciais ou por uma intervenção divina, rompendo as barreiras, inundando as fundações da cidade. Os alicerces de pedra, minados pela água, desmoronariam como areia. O palácio, com seus touros alados, simplesmente “se derreteria”. A grande Nínive, a cidade-leoa, seria um lamaçal. Um pântano de destruição onde os cadáveres flutuariam entre escombros de alabastro. Um cheiro tão fétido subiria que todos que passassem por suas ruínas tapariam o nariz e silvariam de horror e escárnio. “Todos os que te ouvirem a notícia baterão as palmas sobre ti”, sussurrou ele para si mesmo. O triunfo do opressor havia plantado as sementes de uma infâmia eterna.
O sol estava agora a pino. As nuvens no horizonte dissiparam-se, ou talvez nunca tivessem estado lá. A cidade abaixo continuava seu ritmo frenético e arrogante. O grito de um vendedor de água, o tinir de armas da guarda em mudança, o riso alto de um grupo de oficiais saindo de uma taberna. Tudo parecia sólido, eterno.
Eliabe desceu do terraço com os joelhos fracos. A visão havia passado, deixando apenas uma tristeza profunda e uma paz terrível. A justiça, ele entendia, não era um espetáculo rápido. Era lenta, pesada, como uma mó que gira implacável. Nínive bebera do cálice da ira contra o povo do Altíssimo, e agora outro cálice, amargo, estava sendo preparado para seus próprios lábios. A cidade ensanguentada seria, em breve, apenas um montão de ruínas, um covil de feras do deserto, um nome para se pronunciar com aversão. E no silêncio abafado de sua casa, longe do bulício da grande cidade destinada ao pó, o velho mercador hebreu sentou-se, e pela primeira vez em muitos anos, naquele lugar de exílio, sentiu-se em casa. Porque o Juiz de toda a terra havia falado. E o eco do seu veredicto, ainda que só ele pudesse ouvi-lo naquele momento, já ressoava nos alicerces do mundo.