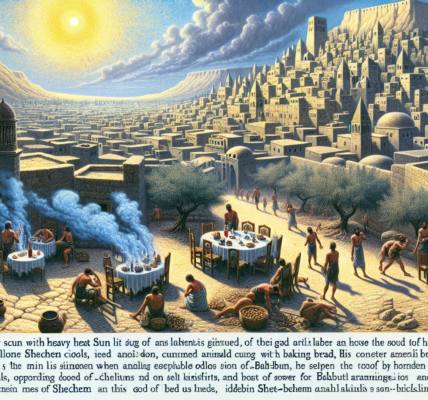O dia havia sido longo e poeirento. Uma daquelas tardes de verão em Tessalônica em que o ar do Egeu parecia carregar não apenas o sal do mar, mas o peso de todo o calor do mundo. Na pequena oficina de couro, próxima ao porto, o cheiro de pele curtida e óleo de cedro se misturava, denso e familiar. Lino, ainda com os dedos doridos de manipular agulhas e fios grossos, observava o céu pela abertura no teto. O azul estava se desfazendo, dando lugar a um roxo profundo, salpicado pelas primeiras e tímidas estrelas.
Seu avô, Simeão, que há anos não enxergava bem as agulhas, mas mantinha a visão clara para as coisas importantes, limpava as mãos numa tira de pano áspera. O silêncio entre eles era cômodo, habitado apenas pelo último chilrear de um grilo e o distante rumor da cidade que não dormia. Mas Lino sentia uma inquietação, uma pergunta que lhe queimava a língua desde que a carta tinha sido lida na reunião dos irmãos, no início da semana.
“Avô,” começou, a voz um pouco rouca da poeira e do cansaço. “O irmão Paulo escreveu que o Dia do Senhor virá como ladrão de noite. Fico pensando nisso ao cair da tarde. Fico vigiando o céu, tentando adivinhar.”
Simeão emitiu um som baixo, entre um suspiro e um grunhido. Esticou as pernas doloridas, os ossos estalando levemente. “Vigiar o céu, neto, é olhar para o lugar errado.” Seu dedo indicador, nodoso como a raiz de uma oliveira, apontou para o coração do jovem. “É aqui dentro que a noite precisa ser iluminada. Paulo não nos mandou fazer contas ou estudar as nuvens. Ele disse: ‘Não durmamos como os demais’. E o sono pesado não é só dos olhos, Lino. É da alma.”
Lino franziu a testa. A analogia lhe escapava um pouco. Simeão percebeu e, com a paciência de quem tinha aprendido a verdade na forja da vida e não apenas em discursos, começou a tecer uma explicação com palavras simples.
“Pega o Timóteo, o filho do oleiro lá da rua das Ânforas. Bom rapaz, trabalha duro. Mas quando o sol se põe, ele se afoga no vinho barato da taberna. A bebida o entorpece, apaga sua razão, faz dele um estranho até para si mesmo. Ele dorme acordado, Lino. Não vê o perigo, não sente a saudade de Deus, não ouve o chamado. Essa é a escuridão. Agora, nós… nós somos filhos da luz, do dia. Não nos pertencem a noite nem as suas obras.”
Enquanto falava, Simeão começou a recolher as ferramentas, arrumando cada cinzel e martelo em seu devido lugar, com um cuidado ritualístico. Cada objeto posto em ordem parecia um ato de fé, uma declaração de que a vida ali tinha propósito e governo.
“Então não precisamos temer o ladrão?” insistiu Lino, ajudando na arrumação.
“Temer? Não. Estar preparados? Sempre.” O velho parou, ergueu um couro já marcado e cortado que logo seria uma sandália. “Olha isto. Eu não fico na porta da oficina, trêmulo, com medo que alguém roube o couro. Eu trabalho nele. Transformo-o. Dou-lhe forma e utilidade. A vigilância não é um suar frio de medo, filho. É um suor honesto de trabalho. É manter a mente sóbria, vestir a couraça da fé e do amor, e por capacete a esperança da salvação.”
As palavras do apóstolo, agora desdobradas pelo avô, começavam a fazer um sentido diferente para Lino. Não era mais uma profecia assustadora sobre um futuro distante. Era um manual para o agora. Para aquele exato momento, enquanto a noite de Tessalônica se aprofundava e as tochas começavam a cintilar nas ruas estreitas.
“E essas ordens todas no final da carta?” Lino perguntou, citando de memória: “Apreciem os que trabalham entre vocês… vivam em paz… ajudem os fracos…”
Simeão sorriu, um sorriso que fazia seus olhos, embaçados pela idade, brilharem com uma luz própria. “Ah, isso é o tear no qual a couraça da fé é tecida. Você acha que pode amar a Deus, a quem não vê, se não honrar o irmão Idário, que é teimoso? Pode esperar a salvação futura se desprezar o irmão doente que precisa do seu ombro hoje?” Ele sacudiu a cabeça. “A santificação de que Paulo fala não é um êxtase. É isso. É dar bom dia sem fingimento. É segurar a língua quando a fofoca é doce. É agradecer a Deus pelo pão de cada dia, mesmo quando ele está duro. É segurar a taça de água para o velho Simeão aqui, que já não tem firmeza nas mãos.”
Lino sentiu um nó na garganta. Estendeu a mão e pegou a bilha de água, servindo o avô com gestos suaves. O silêncio que se seguiu não era mais de dúvida, mas de compreensão. A teologia tinha descido do pergaminho e se encarnado na oficina suja, nas mãos calejadas, no cuidado simples entre gerações.
Mais tarde, já na pequena casa anexa à oficina, Lino se deitou no seu leito de palha. O sono não vinha rápido. Ele ouvia a respiração ritmada e pesada de Simeão do outro lado da divisória. Em vez de ansiedade, uma paz sólida, como a de uma âncora bem lançada, o tomava. As palavras da carta ecoavam, mas agora com a melodia da vida comum.
“Alegrem-se sempre.” Mesmo com as costas doendo? Sim, porque a alegria não era um sentimento, era uma posição da alma diante de Aquele que a segurava. “Orem continuamente.” Não era ficar de joelhos o dia todo, mas fazer do trabalho uma oração, da conversa com o avô um culto, do cansaço um oferecimento. “Deem graças em todas as circunstâncias.” Até pelo dia longo e poeirento, que ensinava paciência? Até pela carta que causou inquietação, mas que trouxe esclarecimento? Sim.
Ele se virou de lado, olhando para a fresta da porta, por onde entrava um filete de luz do luar. O “ladrão na noite” não parecia mais uma ameaça sombria. Parecia um lembrete de que cada instante era precioso, cada ato de bondade, um tesouro guardado. A vinda do Senhor não seria uma interrupção brusca de uma vida boa, mas a colheita natural de uma vida que já estava sendo, pacientemente, dia após dia, cultivada na luz.
Antes que o sono finalmente o levasse, Lino murmurou as últimas palavras que lembrava da carta, como uma oração boa e terrena: “Que o próprio Deus da paz os santifique em tudo. E que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que os chama, e ele fará isso.”
E do outro lado da parede, como se tivesse ouvido o sussurro, a voz rouca e sábia de Simeão completou, baixinho, no escuro: “Amém, neto. Ele fará. Agora durma. Amanhã tem serviço.”
Era a teologia do cotidiano. A esperança vestida de couro e suor. A vigilância que se parecia, simplesmente, com fidelidade. E naquela noite, em Tessalônica, o Reino de Deus avançou mais um pouco, não com estrondo, mas no silêncio de um coração que aprendera a vigiar, não as estrelas, mas a própria vida.