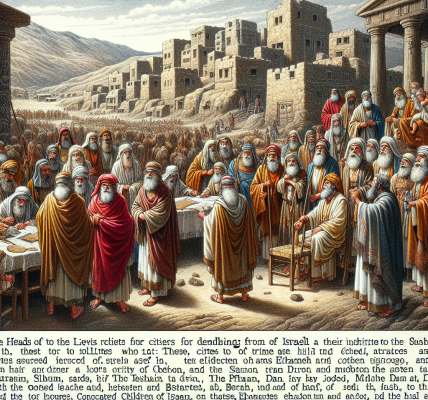A cidade acordava sob um céu de chumbo, aquele tipo de manhã em que o calor já se anunciava opressivo, mesmo antes do sol romper definitivamente as nuvens baixas. Elias caminhava pela calçada irregular, evitando as raízes das figueiras que empurravam o asfalto como dedos ossudos. Seus passos tinham um ritmo conhecido, um compasso maçante que parecia ecoar não só no calçamento, mas dentro do seu próprio peito. Era o caminho de sempre, para o emprego de sempre, carregando o peso de sempre.
Não que sua vida fosse marcada por algum crime espetacular. Longe disso. Era um cansaço de alma, uma coisa mais sutil e por isso mais penetrante. Uma teia de pequenas rendições: a impaciência que explodia em casa, o ressentimento que cultivava como uma planta venenosa no escritório, a compulsão por distrações vazias que ocupavam as noites até que ele caísse, exausto e ainda insatisfeito, no sono. Sentia-se como um rio cujo leito havia sido desviado por uma força maior, arrastado por uma correnteza que não era a sua, levando-o para lugares baixos e pantanosos. Ele chamava isso de “ser quem eu sou”. Uma resignação amarga.
A conversa com Levi na véspera ecoava. Levi era diferente. Não era um moralista, nem falava com aquele fervor artificial de alguns. Tinha uma serenidade que irritava e atraía ao mesmo tempo. Diante de um desabafo de Elias sobre seu próprio caráter cíclico, Levi balançara a cabeça e dissera, quase como quem comenta sobre o tempo: “É estranho como a gente confunde identidade com cativeiro, não é? Achamos que somos o nome que damos às nossas correntes.”
Aquilo doía, porque fazia um sentido imediato. Naquela manhã, caminhando, a frase girava na sua mente. *Cativeiro*. Olhou para as janelas dos prédios, viu rostos apressados, ouvindo fones de ouvido, falando sozinhos, absortos. Quantos sentiam a mesma correnteza invisível?
O trabalho foi uma sequência de horas mortas. À tarde, sentado em sua mesa, Elias pegou um livro antigo que Levi lhe emprestara, um comentário sobre as cartas de um tal Paulo. Abriu ao acaso. Seus olhos caíram sobre palavras que pareciam saltar da página, como se tivessem estado esperando por ele: “*Ou vocês ignoram que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte?*”
A frase soou estranhamente concreta. Batismo ele conhecia – um ritual, um símbolo. Mas *batizados na sua morte*? Era uma imagem violenta, não aquela água tranquilizadora das cerimônias. Ele continuou lendo, devagar, os ruídos do escritório sumindo ao seu redor. “*Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo; para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.*”
Sepultados. Ali, naquela sala de ar condicionado e luz fluorescente, Elias sentiu um frio percorrer sua espinha. Não era medo, era um estremecimento de reconhecimento. Era como se alguém finalmente nomeasse a doença que o consumia por dentro. A vida que ele levava *era* um tipo de sepultura. Um sepultamento em vida, dentro dos hábitos, dos vícios de caráter, das repetições sem esperança. Ele respirava, trabalhava, comia, mas estava enterrado no túmulo do seu próprio “eu” derrotado.
E a ressurreição? “*Novidade de vida*”. As palavras brilhavam com uma promessa quase ofensiva à sua realidade cinzenta. Como? O texto parecia responder à sua pergunta muda, com uma lógica férrea e ao mesmo tempo libertadora: “*Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição; sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos.*”
*Velho homem*. Elias fechou os olhos. Era isso. Aquela persona, aquele “Elias” que ele tanto justificava – o irritadiço, o ressentido, o escravo dos próprios impulsos – tinha um nome agora: era o velho homem. E o texto dizia que esse homem *foi crucificado*. Passado. Um fato consumado. A revelação não veio como um êxtase, mas como um assombro solene. Se aquilo era verdade, então sua luta diária não era para *se tornar* livre. Era para *reconhecer-se* como livre, e então aprender a viver a partir dessa liberdade.
O raciocínio continuava, implacável: “*Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos… Considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus.*”
*Considerem-se*. Era uma ordem, um ato da vontade fundamentado num fato. Não um sentimento. Elias olhou para suas mãos sobre a mesa. Mãos que haviam batido de raiva num volante, que haviam segurado dispositivos que o isolavam do mundo real, que haviam feito gestos mesquinhos. *Mortas para o pecado*. O que significava? Significava que o pecado – aquela força gravitacional que puxava tudo para baixo, para o egoísmo, para a morte em vida – não tinha mais direito legal sobre ele. Como um escravo cujo senhor morreu: a corrente pode ainda estar pendurada no pulso por inércia, mas está quebrada. O dono não existe mais.
O término do expediente o pegou de surpresa. Saiu para a rua, e o céu de chumbo havia se dissipado. Um crepúsculo dourado banhava a cidade. O mesmo caminho, as mesmas figueiras. Mas algo era diferente. A correnteza interna… havia cessado. Não que todos os seus problemas tivessem sumido. Uma vontade familiar de criticar um colega surgiu na mente, mas veio acompanhada de uma nova sensação: era um eco, um hábito neuronal, um fantasma tentando assustar um vivo. *Morto para o pecado*. Ele não alimentou o pensamento. Deixou-o passar, como se visse uma folha seca sendo carregada por um vento que não o afetava mais.
Não foi uma vitória estrondosa. Foi um silêncio. Um espaço novo dentro dele. Como entrar numa casa há muito tempo habitada por um som constante e, de repente, descobrir o que é o silêncio.
Encontrou Levi dias depois, num café. “E aí, Elias? Como vai o cativeiro?”
Elias sorriu, um sorriso tranquilo que ele mesmo não reconhecia. “Acho que eu estava olhando para a corrente errada, Levi. Estava tentando polir o ferro, dar uma aparência melhor, quando a notícia é que a porta da cela está aberta. Sempre esteve. Só precisava levantar e sair.”
Levi inclinou a cabeça, estudando o rosto do amigo. Viu não a euforia de uma conversão superficial, mas a profundidade quieta de quem descobriu um alicerce. “E agora?”, perguntou.
“Now?”, Elias tomou um gole de café. “Agora é aprender a viver fora. Passo a passo. É estranho. Às vezes eu ainda me levanto de manhã e, por um instante, me preparo para carregar o mesmo fardo. Daí eu me lembro: *considerem-se mortos*. E vivo. É um verbo no presente, Levi. Um presente contínuo.”
Era apenas o começo. Haveria dias em que a memória das correntes seria mais forte que a fé na liberdade. Haveria tropeços. Mas o princípio estava estabelecido, não como uma emoção passageira, mas como uma verdade gravada na rocha da realidade: união com Cristo na morte e na vida. A velha identidade, aquela construída sobre a rendição ao pecado, jazia crucificada. A nova, frágil e verde como um broto, se erguia na “novidade de vida”, alimentada por uma graça que era, finalmente, um poder real, e não apenas uma ideia distante.
Elias olhou pela janela do café, para as pessoas passando. Já não via apenas rostos apressados, mas histórias, batalhas, sepultamentos e possíveis ressurreições. E, no meio de tudo, uma gratidão silenciosa começou a crescer dentro dele, não pelo que ele era, mas pelo que, por graça, ele havia deixado de ser, e pelo que, dia após dia, estava aprendendo a se tornar.