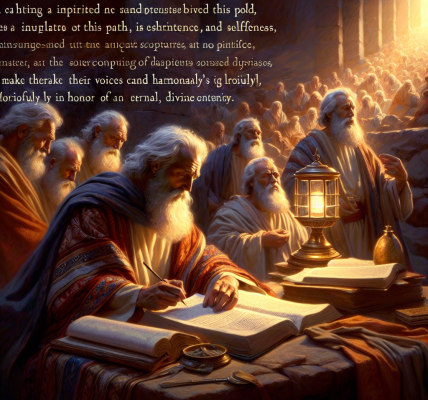O ar ainda cheirava a tempestade. Não aquela tempestade simples, de chuva e vento, mas a tempestade que havia rugido da própria boca do Senhor. Um cheiro de terra revolvida, de ozônio, de granito molhado e de algo indefinível, metálico e antigo. Jó estava de joelhos, mas não por fraqueza. Era o peso. Um peso glorioso e terrível que não o esmagava, mas o aterrava, como se sua pequena humanidade afundasse alguns centímetros no solo do mundo, tentando encontrar um ponto de equilíbrio que não existia mais.
Seus lábios estavam secos e rachados. A voz que lhe respondera do redemoinho ainda ecoava em seus ossos, uma vibração profunda que parecia ter rearranjado suas vísceras. Ele tinha falado tanto. Tinha questionado, clamado por justiça, desfiado um longo rolo de queixas amargas e dignas. Agora, a resposta vinha não como um argumento, mas como uma avalanche de perguntas maiores.
E a voz veio de novo, não mais do caos, mas do silêncio pesado que se instalara.
“Acaso o censurador contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argúi a Deus, que responda.”
Jó engoliu seco. A poeira do chão misturava-se ao suor que escorria de sua testa. Ele não ergueu o rosto. Via apenas as pequenas pedras, os fragmentos de seu mundo despedaçado. Contender? A palavra soava grotesca agora. Como um menino que, após bravatear contra a maré, vê a primeira muralha de água, escura e coroada de espuma, se erguer no horizonte. Não há contenda. Há apenas um silêncio atônito, um reconhecimento biológico, ancestral, do poder que está diante de você.
Ele tentou abrir a boca. Nada saiu. A língua, antes tão afiada em sua defesa, parecia um pedaço de couro velho. Um sussurro rouco raspou sua garganta, mais um sopro do que uma palavra.
“Eis que sou insignificante; que te responderia? Ponho a mão na minha boca.”
Foi uma confissão, não de culpa, mas de escala. Ele tinha falado do que não conhecia. Tinha medido o universo com a régua de sua dor, e a régua havia se mostrado não apenas curta, mas uma ilusão. A mão sobre a boca era um ato instintivo, como tapar os olhos diante de um clarão. Era para conter qualquer sílaba tola que pudesse, por inércia, tentar escapar.
Mas a voz não terminou. A pergunta inicial era apenas o portal. Agora, o Senhor parecia se voltar, não para a dor de Jó, mas para a própria assombrosa arquitetura do poder. Era como se dissesse: ‘Você quis discutir administração? Justiça? Vejamos então os alicerces. Vejamos os guardiões.’
“Ora, cinge os teus lombos como homem; eu te perguntarei, e tu me farás saber.”
Jó sentiu um calafrio. Não era um convite para debater. Era um chamado para testemunhar. Para se firmar e ver. E a visão que começou a se desdobrar não foi de céus estrelados ou abismos oceânicos desta vez. Foi de algo próximo, tangível, e por isso, de certa forma, mais desconcertante.
“Contemplas agora o Beemote, que eu fiz contigo, que come a erva como o boi.”
A imagem não surgiu num relampejo. Formou-se lentamente na mente de Jó, como uma memória ancestral despertando. Ele viu, nas planícies alagadiças de um rio que não conhecia, uma sombra imensa se movendo com uma lentidão deliberada. Não era um boi. Era a *ideia* de um boi, amplificada até a potência primordial. A grama desaparecia em tufos sob seus lábios, não porque ele comesse vorazmente, mas porque sua simples existência demandava uma oferenda contínua da terra.
“Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder, nos músculos do seu ventre.”
Jó, em sua vida anterior, havia visto touros poderosos. Este não era poderoso. Era a encarnação da resistência inabalável. Seus lombos eram como colinas de tendões entrelaçados, uma topografia viva de força latente. Seu ventre, uma cúpula de músculo que falava não de agilidade, mas de uma capacidade imensa de estar, de suportar, de ser.
“Endurece a sua cauda como o cedro; os nervos das suas coxas são entretecidos.”
Ele viu a cauda, não abanando, mas pendente como o grossor de uma árvore antiga, um contrapeso sólido para a massa dianteira. E as coxas… os nervos entrelaçados. Jó, conhecedor do sofrimento físico, pensou na estrutura sob a pele. Não era apenas tamanho. Era uma engenharia divina, uma tecelagem de fibras de força que desafiava a compreensão. Um ser construído não para a elegância, mas para a pura, absoluta, indomável permanência.
“Os seus ossos são como tubos de bronze; a sua ossada, como barras de ferro.”
E aqui a imagem ganhou um tom solene e fúnebre. Não era a carne que impressionava, mas o arcabouço. Bronze e ferro. Metais da forja humana, da civilização, usados aqui como metáfora para a estrutura bruta da criação não-domada. Este ser era um monumento ambulante, sua ossada uma catedral de resistência.
A voz continuou, pintando o cenário desse colosso pacífico. Ele habitava junto aos canaviais, nos pântanos escondidos, à sombra dos salgueiros do ribeirão. O rio, em sua fúria de enchente, não lhe causava pânico. O Beemote simplesmente estava. O Jordão poderia se precipitar contra o seu peito, e ele permaneceria, firme, talvez sequer notando a pressão extra. Era uma estabilidade que transformava o caos em moldura.
“Poderá alguém apanhá-lo quando ele estiver de vigia, ou lhe furar o nariz com laços?”
A pergunta ecoou, carregada de uma ironia tranquila. Jó viu, em um lampejo, as armadilhas dos homens: cordas tecidas, laços afiados, covas camufladas. Tudo parecia brinquedo de criança, uma impertinência de gravetos diante daquela quietude montanhosa. Furar seu nariz? Era como pensar em prender uma tempestade com um alfinete.
E então, como um refrão que sela a canção, a pergunta maior retornou, mas agora ancorada nessa visão tangível do poder criativo de Deus:
“Porventura, poderás tirar com anzol o leviatã, ou lhe apertar a língua com uma corda?”
O Beemote era a força terrestre, a estabilidade indomável. Mas a mente de Jó, já desassossegada, percebeu que este era apenas o primeiro verso. O “leviatã” pairou no ar não como uma pergunta, mas como uma promessa de um mistério ainda mais profundo. Se o Beemote era a montanha que se move, o Leviatã seria o abismo que respira. Era um convite para um terror ainda maior, uma contemplação do caos primordial que o próprio Deus domava e celebrava.
Mas por ora, bastava o Beemote. Bastava aquela criatura que comia grama sob a sombra dos salgueiros, indiferente ao rio turbulento. Jó permaneceu de joelhos, a mão ainda sobre a boca. Sua dor não tinha sido explicada. Suas perguntas não tinham sido respondidas com lógica. Em vez disso, tinham sido envolvidas, engolfadas por uma realidade tão vasta e tão complexamente bela em sua força bruta, que seu próprio sofrimento, ainda real, agora habitava um universo diferente. Um universo onde Deus não era um administrador a ser questionado, mas o poeta obsessivo de forças inalcançáveis, que desenhava, com o mesmo cuidado, a ossada de um monstro e o espírito de um homem quebrantado.
A quietude que se seguiu não era mais a do desespero. Era a quietude do assombro. E no coração daquele silêncio, uma nova e estranha semente começava a brotar: o início da paz.