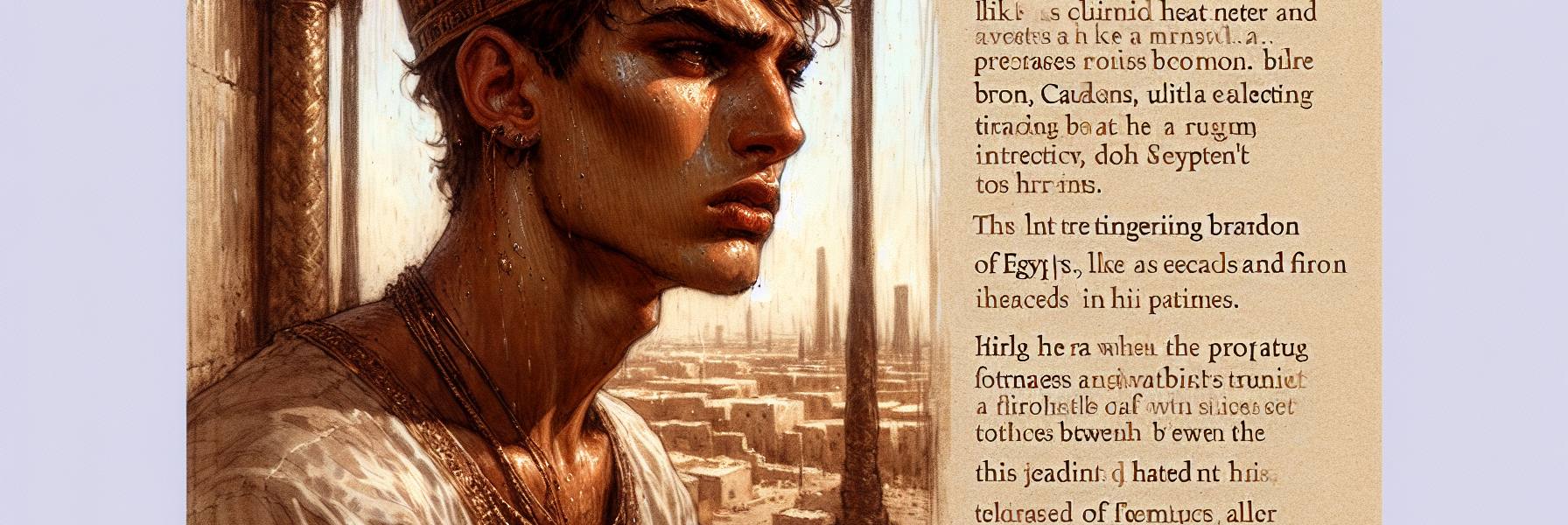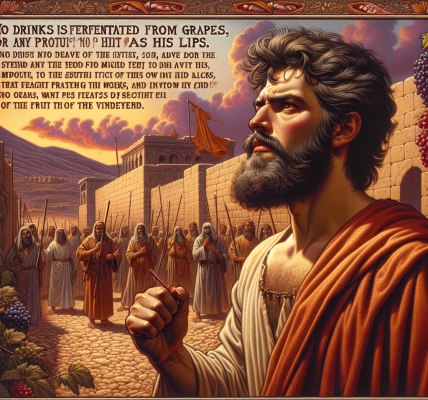O sol da nona hora batia nas pedras de Jerusalém com um peso de bronze, aquecendo até o último seixo da calçada que subia para o palácio. No ar, um cheiro misturado: o incenso teimoso que escapava do Templo, a fumaça de lenha das casas mais pobres no vale, e por baixo de tudo, um odor seco, de poeira e expectativa ruim. Joaquim, rei de Judá, olhava para os rolos abertos sobre a mesa de cedro, mas seus olhos não viam as palavras. Viam o tributo. O tributo que não fora enviado a tempo para a Babilônia.
Seus conselheiros haviam sussurrado, é claro. “O Egito prometeu apoio”, diziam alguns. “Nabucodonosor está ocupado no norte”, garantiam outros. Joaquim, filho de Josias, um homem mais dado aos projetos de construção do que aos conselhos dos profetas, acalentara aquele pensamento doce e perigoso: a de que poderia quebrar o jugo. Ignorara os avisos ásperos que vinham das bocas de homens como Jeremias, vozes que falavam de cedros devorados por gafanhotos vindo do deserto. Preferira ouvir o tilintar do ouro egípcio, as promessas de faraó. E agora, a conta chegava.
Não chegou por carta, nem por embaixada formal. Chegou no rumor que precedia os cavalos. Pastores nos outeiros de Belém viram primeiro: uma nuvem baixa no horizonte, não de chuva, mas de poeira levantada por incontáveis cascos e sandálias. Depois, os vigias nas torres avistaram o brilho suspeito de lanças ao longe, cintilando sob o sol implacável. Era um exército composto, uma amálgama terrível: as disciplinadas falanges babilônicas, sim, mas também arameus vindos do nordeste, moabitas sedentos por revanche, bandos de quilítas mercenários. A ira de Nabucodonosor não era apenas política; era um instrumento divino, uma vara de correção que muitos em Judá, nos seus altares no alto de cada colina, teimavam em não reconhecer.
Dentro dos muros, o pânico foi um fermento que cresceu rápido. O mercado, antes cheio do pregão de vendedores e do cheiro de especiarias, ficou tomado por um burburinho tenso. Homens carregavam sacos de grãos para esconderijos improvisados. Mulheres, com os olhos arregalados, puxavam as crianças para dentro de casa. Nos pátios do Templo, os sacerdotes ofereciam sacrifícios com redobrada urgência, a gordura das ovelhas queimando no altar com uma fumaça espessa que subia reta no ar parado, como um último apelo. Mas havia um vazio naquela devoção, uma formalidade oca. O SENHOR já falara. Falara através de leis quebrantadas, de alianças esquecidas, da idolatria que se aninhara até nos átrios sagrados, nos “cavaleiros do sol” que Joaquim permitira nos limites do palácio.
O cerco não foi imediato. Primeiro veio o assédio, lento e metódico. As tropas babilônicas sitiaram a cidade, mas seu foco inicial foram as fortalezas ao redor, os pontos de resistência do reino. De dentro dos muros, os cidadãos de Jerusalém ouviam, em noites quietas, o distante estrondo de máquinas de guerra contra pedra, o grito abafado que anunciava a queda de Laquis, de Azeca. Cada notícia, trazida por um fugitivo esfarrapado que se arrastava até os portões, era um prego no caixão da esperança. O Egito? O Egito era um fantasma. Nenhum exército veio do Nilo.
Joaquim, encurralado, assistia a sua autoridade dissolver-se como sal na água. A decisão final não foi heroica. Foi um cálculo de desespero. Num dia em que a fome começava a afiar seus dentes nos bairros mais pobres, ele ordenou que os portões fossem abertos. Ele, a rainha-mãe, seus oficiais, saíram não para a batalha, mas para a rendição. O relato diz que Nabucodonosor já havia partido, deixando a tarefa a seus generais. Talvez o grande rei não julgasse digno ver a humilhação pessoalmente. Ou talvez aquele fosse apenas um capítulo num plano maior.
A cena foi de uma humilhação cuidadosamente coreografada. Os babilônios não entrarram como bárbaros saqueadores, não naquele primeiro momento. Entraram como engenheiros de um novo poder. E fizeram uma colheita seletiva. A primeira leva de cativos não foi das massas famintas, mas da fina flor da nação. Viram Joaquim sendo algemado com correntes de bronze, não de ferro – um detalhe cruel que marcava um prisioneiro real. Viram os sábios, os homens hábeis em qualquer arte, os ferreiros que poderiam forjar armas, os artesãos que construíam cidades. Foram retirados de suas casas, seus rosto uma máscara de incredulidade e terror contido. Eles eram o cérebro e as mãos de Judá. Sem eles, o que restaria era um corpo decapitado, um povo de lavradores e pastores.
Mas o golpe mais profundo, aquele que ecoaria por gerações nas lamentações e nos salmos, veio depois. Os generais babilônicos, com um inventário frio, entraram no Templo do SENHOR. Os sacerdotes, impotentes, viram-nos passar pelo átrio dos gentios, pelo dos israelitas, até o Santo Lugar. E ali, com mãos que não tinham sido consagradas, removeram os tesouros. Não foi um saque desordenado. Foi uma desmontagem sacra. Os utensílios de ouro, os candelabros, as pás, as bacias, tudo que Salomão fizera com tanto esplendor séculos antes, foi cuidadosamente embrulhado em panos e carregado para as carroças. Cada peça que saía era um pedaço da alma nacional, uma promessa que parecia se desfazer. A Arca, curiosamente, não é mencionada. Talvez já estivesse escondida, ou talvez sua ausência silenciosa fosse o maior testemunho da glória que partira.
O reino não foi totalmente destruído naquele instante. Colocaram no lugar de Joaquim um tio, Matanias, mudando-lhe o nome para Zedequias. Um rei fantoche, de coração fraco, que juraria lealdade à Babilônia sobre os mesmos rolos da Lei que seu irmão ignorara. Jerusalém ficou de pé, mas era uma cidade esvaziada, um casulo após a saída da borboleta. A elite, os visionários, os artistas, os mestres, agora caminhavam em uma longa e poeirenta coluna para o oriente, para os canais da Mesopotâmia.
E o povo que ficou? Olhava para os muros vazios, para o Templo despojado, e sentia um silêncio diferente. Não era a quietude do shabbat. Era o silêncio pesado do juízo, o eco do que os profetas chamavam de “o restante”. A palavra do SENHOR, dura como as pedras da cidade, cumprira-se. A desobediência teimosa dos reis, desde os dias de Manassés, que enchera Jerusalém de sangue inocente, encontrara seu limite. O jugo de madeira, que Joaquim tentara quebrar, fora substituído por um jugo de ferro.
Ao anoitecer, no primeiro dia após a partida dos babilônios, um velho sacerdote que sobrevivera subiu ao monte das Oliveiras. De lá, via a cidade silhueta contra o céu cor de púrpura. Já não subia a fumaça do altar. O coração dele entendia, finalmente, que às vezes o amor de Deus se expressa no ato de não impedir que as consequências chegarem. O exílio começara. E com ele, numa terra estranha, entre os caniços dos rios estrangeiros, nasceria uma nova esperança – não mais atada a tronos de ouro ou a tesouros de templos, mas a uma promessa que habitava no frágil coração humano arrependido. A história de Judá não terminara. Apenas mergulhara no deserto, para ser refeita.