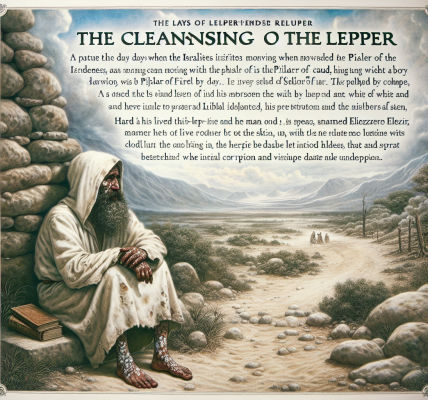O sol da tarde derramava um âmbar pesado sobre os telhados de Jerusalém, um calor que carregava não apenas o pó do deserto, mas o peso silencioso de anos de fracasso. Nos aposentos do palácio, longe do burburinho do pátio, o rei Asa segurava um fragmento de cerâmica com a inscrição do avô, Roboão. A linha quebrada do selo real parecia um presságio de reinos partidos.
Seu pai, Abijão, havia reinado apenas três anos, um sopro envenenado na história de Judá. Asa, jovem ainda, mas com os olhos de um homem que cresceu vendo sombras, lembrava-se daquela corte. O incenso pesado dos altares nos altos, erguidos por Salomão e nunca removidos, misturava-se ao cheiro da política. Abijão falava de alianças, de batalhas vencidas contra o norte, de uma fachada de poder. Mas à noite, nos corredores vazios, os sacerdotes mais idosos sussurravam. Diziam que o coração de Abijão não fora íntegro para com o Senhor, como tinha sido o de Davi, seu ancestral. Ele permitira que os ídolos permanecessem, que a prostituição cultual se arrastasse pelas colinas como uma hera venenosa. E Asa, menino observador, via a incongruência: o rei citava os feitos de Davi em discursos, mas seus atos cheiravam a Baal.
A morte de Abijão foi rápida, uma febre que o consumiu em poucas luas. O povo talvez esperasse mais do mesmo. Um jovem rei, uma regência talvez, novos compromissos. Mas Asa, no dia da unção, com o óleo escorrendo por suas têmporas, sentiu um frio que não era do azeite. Era a clareza brutal de uma escolha. Nos arquivos, ele lera sobre Davi. Não a versão glorificada, mas os relatos crus: o adultério, o assassinato, o lamento. E, no entanto, o veredito divino era sempre o mesmo: “Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara, todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu.” Havia uma inteireza ali, uma busca de arrependimento e retorno, que faltava há gerações.
Os primeiros anos de seu reinado foram de um silêncio ativo. Enquanto os sírios de Damasco e os israelitas do norte trocavam ameaças e acordos traiçoeiros, Asa cavou as fundações de sua reforma. Não com estrondo de guerra, mas com o som surdo de marretas derrubando ídolos. Ele pessoalmente acompanhou os levitas às colinas. Não era uma delegação burocrática. Ele viu com seus próprios olhos os postes sagrados, esculpidos com obscenidades rituais, enegrecidos pelo fogo de oferendas estranhas. Ordenou que fossem quebrados, reduzidos a lascas. O cheiro do incenso ilegítimo, que insistia em impregnar a madeira, foi varrido pelo vento do deserto.
Sua própria avó, Maacá, filha de Absalão, era um problema mais espinhoso. Ela não era apenas a rainha-mãe; era uma figura poderosa, matriarca de facções no palácio, e, ele descobriu, uma devota de Asherah. No fundo dos seus aposentos luxuosos, mantinha um ícone repugnante da deusa, um objeto de culto privado que contaminava publicamente a casa real. Asa convocou-a. O salão estava frio, a luz filtrada pelas cortinas pesadas.
“Avó,” sua voz era calma, mas sem espaço para réplica, “o teu lugar de honra é garantido. Mas o teu ídolo não.”
Maacá protestou, citando tradição, influência, o peso de sua linhagem. Asa ouviu, mas seus olhos estavam fixos numa visão maior: um reino que, pela primeira vez em décadas, poderia ser chamado de “íntegro”. Destituiu-a da posição de rainha-mãe. O ato ecoou pelos corredores como um trovão. Mais surpreendente ainda foi o que fez em seguida. O ícone de Asherah, uma peça de artesanato perverso e caro, foi arrastado para o vale do Cedrom. Ele não ordenou que fosse queimado num ritual distante. Ficou de pé, sob um sol implacável, e viu as chamas consumirem a madeira entalhada, até que nada restou senão cinzas que o ribeiro da estação seca levou. O povo murmurou, primeiro em choque, depois com um respeito que beirava o temor.
A paz, porém, era um bem raro. Baasa, rei de Israel, olhava para o sul com inveja. A fortaleza de Ramá, a apenas um tiro de flecha da fronteira de Judá, foi fortificada. Era um bloqueio estratégico, um estrangulamento econômico e militar. Asa sentiu o velho instinto da casa de Davi: reunir os exércitos, marchar, confiar na espada. Mas a memória das reformas o confrontou. Ele havia purgado o culto, mas confiaria no braço de carne quando a sobrevivência do reino parecia em jogo?
Foi então que tomou a decisão que mancharia para sempre a pureza de seus primeiros anos. Nos cofres do templo, restaurados por suas economias, e nos tesouros do próprio palácio, havia ouro e prata. Ele os enviou, numa caravana sigilosa, a Ben-Hadade, rei da Síria em Damasco, com uma mensagem: “Haja aliança entre mim e ti, como havia entre meu pai e o teu. Rompe tua aliança com Baasa de Israel.”
Funcionou. De forma espetacular e covarde. Os sírios atacaram as cidades do norte de Israel, e Baasa, apanhado entre duas frentes, abandonou Ramá às pressas. Asa mobilizou então todo Judá, não para guerrear, mas para carregar as pedras e a madeira de Ramá para edificar Geba e Mizpá. Foi uma vitória logística, um triunfo da realpolitik. O reino respirava aliviado.
Mas um profeta, Hanani, homem de olhos claros que pareciam ver através do mármore do trono, veio até ele. Não com congratulações, mas com uma reprimenda divina.
“Porque confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus,” disse a voz rouca do homem, ecoando na sala do trono agora segura. “Os exércitos da Síria escaparam das tuas mãos. Não tinhas os etíopes e os líbios um exército imenso? Contudo, porque confiaste no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto procedeste loucamente.”
Asa, o reformador, o destruidor de ídolos, ficou irado. A verdade daquelas palavras era como um ácido. Em vez de se humilhar, prendeu o mensageiro num tronco, na prisão. O homem que esmagara um ídolo com as próprias mãos agora torturava um profeta por falar a verdade. Era uma ironia amarga, um tumor no coração outrora íntegro.
Os anos finais foram sombrios. Uma doença nos pés assolou-o, talvez gota, talvez algo pior. A dor era constante, um latejar que parecia ecoar a repreensão de Hanani. E aqui, o registro é terrível em sua simplicidade: “E, no tempo da sua doença, não buscou ao Senhor, mas antes, aos médicos.” Não que a medicina fosse proibida, mas a atitude do coração era de completo desvio. Ele, que uma vez confiara em alianças estrangeiras em vez de Deus, agora confiava apenas em unguentos e poções, virando as costas definitivamente à fonte da cura.
Morreu após quarenta e um anos de reinado, um dos mais longos de Judá. Foi sepultado com honras, num túmulo que ele mesmo preparara na Cidade de Davi. O povo acendeu fogueiras em sua homenagem, fogueiras muito maiores e mais puras do que aquela que consumira o ídolo de sua avó. Mas os escribas, ao gravarem sua história no grande rolo dos Reis, foram precisos e impiedosos: seus olhos, no fim, não foram como os de Davi, inteiros. Foram os olhos de um homem que começou na luz, construiu uma grande obra sobre a rocha, e depois, lenta e tragicamente, permitiu que a areia da autossuficiência corroesse sua própria fundação. E o reino, embora em paz com as fronteiras fortificadas, carregava agora uma paz interior frágil, à espera do próximo rei, do próximo coração.