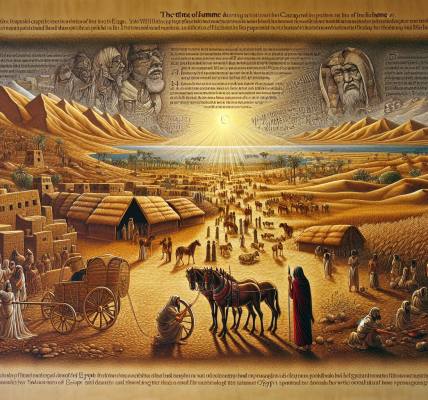A memória é um rio que corre para trás. E hoje, sentado à sombra da figueira seca, com os ossos doendo da viagem, o rio da memória me arrasta de volta àquela tarde em que o céu ficou da cor de bronze fundido e o silêncio pesou sobre a cidade exilada.
Não foi um sonho. Quem sonha acorda aliviado. Aquilo foi uma arrebentação dos céus, uma fenda no tecido do comum. Lembro do cheiro de poeira e peixe seco do Chebar, e de repente, não. Só a presença. E a voz que não se ouve com os ouvidos.
“Vem”, disse. E eu fui, não com os pés, mas com algo mais profundo que os pés. Ele me levou de volta, não a Jerusalém em ruínas, mas ao seu coração, ao umbral do Templo. A pedra sob meus dedos fantasma era lisa e viva, branca como osso novo. O sol, diferente do sol da Babilônia, banhava tudo num ouro líquido e silencioso.
Foi então que vi a água. Não um rio caudaloso chegando, mas nascendo. Era um fio tímido, uma lágrima da própria terra, escorrendo de debaixo da soleira do santuário, do lado sul do altar. Um filete tão modesto que dava pena, serpenteando pelas juntas das pedras do piso do átrio externo, hesitante, como se não soubesse para onde ir. Meu coração, de exilado, se apertou. Assim é a graça nos nossos dias, pensei. Um fio tênue, quase uma ilusão.
Ele, o homem de aparência como bronze polido, segurava em suas mãos uma corda de linho e uma vara de medir. Seus olhos não refletiam minha decepção. “Vem”, disse outra vez. E saímos pelo portão leste, aquele que olha para o deserto.
A água nos seguia. Ou nós a seguíamos. Caminhamos mil côvados, uma distância boa, o suficiente para o suor brotar na nuca. Ele parou. “Mensure, Ezequiel.”
Entrei na água. Fria, surpreendentemente fria, meus tornozelos protestaram. Ela mal cobria as correias das sandálias. Água até os tornozelos. Um riacho raso, coisa de criança brincar. A esperança, às vezes, é só isso: algo que refresca os pés cansados. Ele não disse nada. Apenas assentiu, e seu rosto era inescrutável.
Caminhamos mais mil côvados. O barranco à nossa esquerda já mostrava manchas escuras de umidade. O ar começava a mudar, a perder aquele gosto de poeira queimada. Ele parou de novo. “Mensure.”
Entrei. Desta vez, a água me atingiu as panturrilhas, depois os joelhos. Já não era um fio, era uma correnteza definida, murmurando baixo contra as pedras do leito. Água até os joelhos. Para se atravessar, já era preciso esforço. A fé, quando cresce, exige que a gente se mexa, que levante os joelhos, que lute contra a correnteza do hábito. Respirou fundo. O ar era mais puro ali.
Outros mil côvados. A paisagem já não era a mesma. O solo arenoso dava lugar a um verde pálido, tímido, como a barba de um adolescente. Cardos? Talvez. A vida insistia. Ele parou. “Mensure.”
Desci. A água me tomou de surpresa, gelada e forte, batendo-me nos quadris. Eu vacilei, quase perdi o equilíbrio. A correnteza puxava, tinha vontade própria. Água até os lombos. Já era um rio de verdade. Para atravessar, seria preciso nadar, se entregar. A profundidade da promessa, quando atinge nossos lombos, abala nosso centro de gravidade. Tudo o que é firme e estável é desafiado. O homem de bronze me estendeu a mão, seus dedos eram quentes como sol da tarde.
“Mais mil”, foi tudo o que ele disse.
E caminhamos. E algo extraordinário acontecia. O ribeirão não crescia mais. Ele se transformava. O murmúrio virou um rugido suave, e o verde ao redor não era mais tímido. Era uma explosão. Samambaias, videiras bravas, salgueiros que choravam de alegria às margens, tudo numa profusão desordenada e linda. O cheiro era de terra molhada e vida, um perfume esquecido desde minha infância em Judá.
Ele parou. Não precisou dizer. Eu olhei para a água e soube. Não havia mais como medir. Não havia fundo. Não havia margem para se firmar. O rio era largo, profundo, majestoso. Águas para se nadar. Um rio que não se atravessa, que se navega. Um rio que carrega.
“É o fim das medidas”, ele disse, e pela primeira vez, vi um brilho que não era de bronze em seus olhos. Era de água viva. “A partir daqui, ele segue sozinho.”
E seguimos pela margem, ou ele me levou, não sei mais. Eu era um espectador embasbarcado. O rio, aquele filete ridículo, era agora uma força da criação. Ele descia para o Arabá, aquela terra seca e morta, e ao tocar as águas salgadas do mar Morto, acontecia o milagre silencioso.
Eu vi. Vi com estes olhos que agora estão secos e velhos. As águas salgadas, pesadas, estagnadas, onde nada vivia, se retiravam. Não era uma explosão, era um recuo respeitoso, como a morte cedendo lugar. E onde as águas doces do rio do Templo chegavam, a vida brotava num frenesi.
Não eram metáforas. Eram peixes. Multidões de peixes, tantos que as águas parevam ferver, de tantas barbatanas e escamas reluzindo sob o sol. Espécies que nunca tinha visto, cores que nem nomes tinham. E os pescadores! De onde surgiram? Estavam ali, atirando suas redes, das margens de En-Gedi a En-Eglaim, e as redes estouravan de tanto peixe. O mar da morte virara viveiro da vida.
Mas o rio não parava ali. Sua influência era mais profunda. As águas salobras que restavam se tornavam saudáveis. Não doces, mas curadas. E a terra ao redor… ah, a terra. Em ambas as margens do rio, frutíferas árvores cresciam. Não precisavam de inverno e verão. Suas folhas não caíam. E os frutos eram mensais, novos a cada lua, redondos e pesados. E as folhas… as folhas eram para a cura.
Eu caí de joelhos na margem, a areia úmida marcando minhas vestes. A visão me esmagava. Era um recomeço completo. Não uma restauração, mas uma nova criação. Do santuário mais sagrado, aquele lugar inacessível, brotava não um decreto, não uma lei, mas uma corrente de vida orgânica, irresistível, que descia e transformava tudo. A salvação não era um conceito; era um rio. A cura não era uma promessa; era uma folha nascente. A provisão não era um milagre ocasional; era a natureza mesma, refeita.
Ele ficou ao meu lado, em silêncio, me deixando chorar aquelas lágrimas salgadas que o rio doce jamais produziria. Eram lágrimas de exílio, sendo lavadas pela visão do fim de todo exílio.
Acordo aqui, sob a figueira seca, na Babilônia. Os ossos doem, o ar ainda cheira a poeira e desespero. Mas nas solas dos meus pés, guardo a sensação da água gelada dos tornozelos. Nos meus joelhos trêmulos, a memória da correnteza nos lombos. E no peito, este rio largo e profundo, estas águas para se nadar, que correm em direção ao mar da morte para trazê-lo à vida.
E eu sei, com uma certeza que nem a solidão do exílio pode corroer, que o Templo não é um lugar. É uma Pessoa. E de seu lado, já escorre um filete de água viva. Basta caminhar com Ele a primeira distância. Basta molhar os pés. O resto, o mar transformado, os peixes, os frutos perenes… o resto vem por acréscimo. A fonte já brotou. O rio já começou a correr.