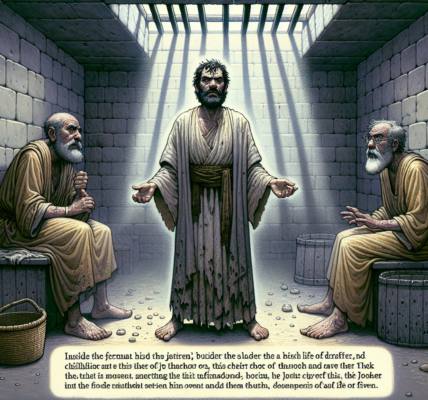O vento quente do deserto de Tecoa soprava, trazendo consigo um cheiro misto de poeira, ervas ressecadas e o distante aroma do gado. Amós, de pé numa colina pedregosa, sentia o suor escorrer pelas têmporas, salgando os lábios. Suas mãos, calejadas pelo manejo da vara de pastor e do furador de sicômoros, repousavam sobre um bordão de zambujeiro, áspero e familiar. O sol da tarde alongava as sombras dos vales abaixo, pintando o mundo em tons de ocre e ferrugem. Ele não era um profeta por ofício, nem filho de profeta. Era um homem da terra, acostumado ao silêncio dos montes e ao balido das ovelhas. Mas algo havia começado a arder dentro dele, uma inquietação que não era sua.
Não começou com uma voz clara, mas com uma pressão no peito, como a que precede uma tempestade no deserto. Ao observar os cordeiros, ao consertar as árvores raquíticas, uma série de imagens começou a se formar em sua mente, não como sonho, mas como uma realidade mais densa e terrível que o mundo ao seu redor. Eram cenas de violência distante, gritos que o vento não trazia, fumaças que subiam de cidades que ele jamais visitara. E com as imagens, vieram os nomes. Damasco. Gaza. Tiro. Edom. Amom. Moabe. Judá. Israel. Uma geografia do juízo se desdobrava em seu espírito.
Ele desceu a colina, os pés encontrando o caminho familiar quase por instinto. Mas seu interior estava em um lugar completamente diferente. No silêncio de seu íntimo, ele *ouvia* – não com os ouvidos, mas com o espírito – um rugido. Não o de um leão do Jordão, mas algo mais antigo e devastador. Era como se os próprios alicerces da criação gemessem. E então, as palavras vieram. Não eram suas. Elas se formavam em sua boca com um peso e um sabor metálico, como se tivesse mastigado cinzas.
Sentou-se à entrada de uma tosca cabana de pedra, olhando para o vastidão. Quando falou, era baixo, quase para si mesmo, mas as palavras carregavam uma solenidade que fazia o ar parar.
“O Senhor rugiu de Sião…”, começou, e a própria pronúncia do Nome fez um calafrio percorrer sua espinha. “E de Jerusalém levantou a sua voz.” Era dali, do lugar do Templo, da cidade do grande rei, que o trovão se originava. Não era um murmúrio local. Era um decreto que abarcava nações.
E a visão se tornou específica, dolorosamente clara. Primeiro, Damasco. Ele via, como se estivesse pairando sobre os muros, as ceifadoras de metal reluzente não em campos de trigo, mas em Gileade. O barulho não era o de grãos sendo colhidos, mas de ossos sendo trilhados. Uma violência tão calculada, tão completa, que transcendia a guerra. Era um pisar da dignidade humana, uma debulha de corpos como se fossem espigas. “Por três transgressões de Damasco, e por quatro…”, a frase ecoava dentro dele, um ritmo judicial, implacável. O castigo não seria apenas um exército rival. Seria um fogo que consumiria os portões de Ben-Hadade, aquelas enormas estruturas de cedro que simbolizavam seu poder, e devoraria os palácios da cidade rica. O povo de Quir, para onde outrora exilaram outros, agora se tornaria o destino dos nobres damascenos. A justiça, na economia divina, frequentemente se servia de uma simetria austera.
Ele ergueu o rosto, sentindo o peso da próxima sentença. Gaza. A cidade filisteia, sempre uma espinha cravada no flanho da costa. A visão era de caravanas inteiras sendo capturadas, não em batalha, mas em traição. Homens, mulheres, crianças, vendidos como mercadoria para Edom, um povo irmão transformado em comércio de carne humana. A violência por ganância, a comunidade destruída para alimentar o tráfico de escravos. O fogo, novamente. Desta vez, não apenas nos portões, mas consumindo os palácios de Gaza até suas fundações. O juízo era total. Ashtarote e Ecrom, outras cidades soberbas da confederação filisteia, seguiriam o mesmo destino. Até o remanescente seria exterminado. A palavra do Senhor Soberano era final.
E assim continuou, em uma sucessão esmagadora. Tiro, a pérola do Mediterrâneo, a cidade comerciante que erguera suas riquezas sobre alianças esquecidas e tratados quebrados. Eles também entregaram irmãos cativos a Edom, fechando os ouvidos ao pacto de irmandade. Seus muros fortíssimos, que desafiavam o mar, não resistiriam ao fogo que viria sobre suas fortalezas.
Amós fechou os olhos, mas as visões não cessavam. Agora eram os povos mais próximos, ligados por laços de sangue e história. Edom, descendente de Esaú. Ele via a fúria implacável, a ira incessante que perseguia Judá com a espada, sem qualquer piedade, corroendo toda compaixão. A violência alimentada por um ódio ancestral. Rabá, sua capital majestosa, seria devorada pelas chamas, e Temã e Bozra, seus baluartes, conheceriam o estrondo da guerra.
Os amonitas, filhos de Ló. A cena era de uma brutalidade atroz: grávidas em Gileade sendo abertas ao meio, um ato de expansão territorial manchado com a crueldade mais obscena. O desejo por terra tinha apagado qualquer vestígio de humanidade. Seu fogo viria sobre Rabá também, com clamor no dia da batalha, com furor no dia do temporal.
E Moabe, outro filho de Ló. A profanação do rei de Moabe aos ossos do rei de Edom, queimando-os até virar cal. Violar a morte era romper um último limite do respeito, mesmo entre inimigos. O juízo seria entregue a um “juiz”, uma força militar que traria desolação aos altos lugares de Queriote, lugares de culto e orgulho moabitas.
Uma pausa. Um silêncio mais pesado. Amós respirou fundo, sentindo um nó na garganta. Agora o olhar do Rugido se voltava para mais perto. Para o próprio povo da aliança.
Judá. Eles haviam rejeitado a Lei do Senhor. Não uma violência de guerra, mas uma traição mais íntima, mais profunda. Guardaram estatutos que eram mentira, seguidos por seus pais, se desviando para ídolos mudos e impotentes. O fogo, aquele mesmo fogo imparcial, consumiria os palácios de Jerusalém.
Por fim, Israel. O reino do norte, próspero, seguro em Samaria. Aqui, a visão foi a mais nítida e a mais dolorosa. A justiça era vendida por prata na praça do mercado. Sapatos, um objeto trivial, eram usados como pretexto para esmagar a cabeça dos pobres no pó da terra. O humilde era empurrado para fora do caminho. Pai e filho se deitavam com a mesma moça, profanando o Nome santo. Vestes tomadas em penhor, de pobres que não tinham outra coisa, eram estendidas ao lado de altares idolátricas. Vinho confiscado através de multas injustas era bebido na casa de seus deuses de madeira e pedra.
Amós abriu os olhos. O sol já se punha, inundando o deserto com uma luz sangrenta. A pressão no peito não tinha aliviado; tinha se solidificado em uma certeza angustiante. O Rugido não era apenas para os pagãos. Era para todos. O Deus que via as atrocidades em Gileade e Gaza era o mesmo que via a corrupção nos portões de Samaria. Sua justiça não tinha favoritos.
Ele se levantou, o corpo pesado como se carregasse o fardo de todos aqueles povos. A mensagem não era de condenação cega, mas de uma ordem moral violada, um limite transposto repetidas vezes. “Por três transgressões, e por quatro…” Era a paciência esgotada. A conta, finalmente, apresentada.
Olhou para suas ovelhas, agrupando-se para o repouso. Elas não sabiam nada de Damasco ou de Samaria. Mas ele, Amós, o pastor de Tecoa, sabia. E agora, tinha que falar. A voz que rugira em Sião agora ecoava em seu peito, e não silenciaria até ser ouvida. O caminho à sua frente não levava mais apenas aos pastos verdejantes. Levava a um confronto com um mundo que havia esquecido o peso da justiça e o estrondo do trovão divino. E ele, um homem do campo, com as mãos sujas de terra e seiva de sicômoros, era o portador dessa palavra intempestiva.